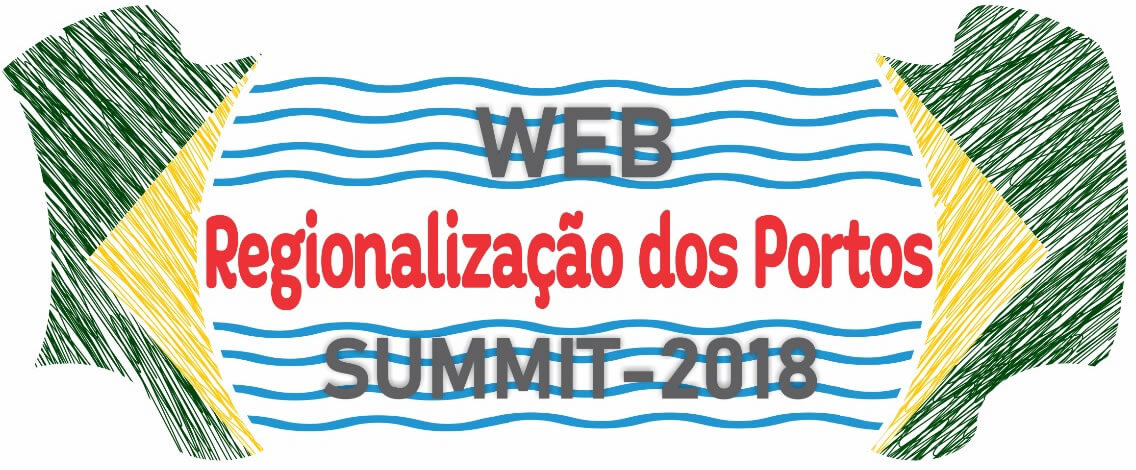I
Esse é mais um artigo sobre as relações entre História e Literatura e, desta vez, aponta o perigo de relacionar diretamente o texto ficcional à vida de seu autor. O motivo é que li nestes dias um artigo que me fez pensar em como o culto à celebridade tem afetado a produção jornalística, como se o autor fosse maior ou mais importante que a obra.
Foi no UOL, que publicou em 20 de janeiro um texto sobre o escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003) assinado por Larry Rotter, correspondente do New York Times na América Latina conhecido do público brasileiro pela matéria que busca descrever os hábitos de consumo de bebida do presidente Lula.
Rotter não escreve uma linha sobre a obra de Bolaño: o correspondente não quer saber da renovação literária promovida pelo autor em livros como Os detetives selvagens, Noturno do Chile ou Amuleto; não analisa sua narrativa nem sua linguagem; não contextualiza sua escrita nem relaciona seu conteúdo com a realidade. O assunto da matéria é a comoção com que nos Estados Unidos se discute se fatos narrados em primeira pessoa por personagens de Bolaño ou pelo próprio foram de fato vividos pelo escritor.

Bolaño faleceu ainda jovem, aos 50 anos, e logo começou a
adquirir o status de lenda em toda a América Latina
O artigo se baseia na repercussão de um texto “autobiográfico” de Bolaño, assim mesmo entre aspas porque desde que Jorge Luis Borges, com o relato A aproximação a Almotásim, definiu lá atrás na década de 30 o gênero da resenha fictícia (isto é, sobre um texto inexistente), os críticos e biógrafos – inclusive correspondentes internacionais para a América Latina do New York Times – deveriam saber que se deve desconfiar do relato alegadamente real (jornalístico ou autobiográfico) de um autor de ficção.
Esse texto se chama A praia e foi publicado em julho de 2000 no jornal El Mundo como, explica Rotter, parte de uma série em que 30 autores de língua espanhola escreveram sobre o pior verão de suas vidas. A primeira frase de A praia é assim: “Eu abandonei a heroína e voltei a minha cidade e dei início ao tratamento a base de metadona que me foi administrado na clínica...”.
Em 2004, um ano após a morte do autor, o texto volta a ser publicado em uma coletânea sua de ensaios, artigos e discursos. Na introdução, Ignácio Echevarría põe lenha na fogueira dos que acreditam na ligação sem filtros entre ficção e conteúdo histórico ou biográfico ao classificar o livro, não o texto, e a citação é de Rotter, de “cartografia pessoal” e “autobiografia fragmentada” de Bolaño, o bastante para que nos Estados Unidos a discussão sobre a literatura de Bolaño desse lugar ao espetáculo e ao drama de um “marginal literário” (a expressão é do correspondente).
O repórter mostra que críticos e analistas espanhóis e latino-americanos acusam seus colegas norte-americanos de forçar a barra ao proporem ao público de seu país uma estreita e pobre relação entre vida e obra do autor chileno.
II
É claro que Bolaño contribuiu para a confusão: seu alter ego em Os detetives selvagens e em outros relatos leva o nome de Arturo Belano; alguns de seus personagens poetas e escritores fazem bico de guarda noturno em um camping assim como o próprio Bolaño havia trabalhado em uma cidadezinha da Catalunha; e, assim como o criador alega ter feito após passar a adolescência no México, Belano também voltou ao Chile com a vitória de Salvador Allende e dali só sairia em 1973 após o golpe militar e a prisão, ao lado de muitos, do autor.
Mesmo que a lição de Borges tenha sido esquecida, deve-se observar a própria obra de Bolaño para desfazer o engano. É que ele escreve tão bem em primeira pessoa que seus personagens surgem como vozes tão singulares que acreditamos neles como se fossem pessoas reais que nos contassem segredos. E em segredos acreditamos todos nós.
O episódio do retorno ao Chile é emblemático e, porque alguns duvidam que tenha ocorrido, problemático da discussão. Em Os detetives selvagens conhecemos Belano pelo diário do jovem poeta Juan Garcia Madero, que forma a narrativa da primeira e terceira partes, e por testemunhos de dezenas de outros poetas, intelectuais e amigos (a segunda parte) que conheceram Belano e seu companheiro de aventuras, Ulises Lima, os detetives selvagens do título.
Em Amuleto, publicado em português agora no final de 2008, o episódio é lembrado por Auxilio Lacouture, poeta uruguaia que conhece Belano e mantém uma relação de amizade com sua família durante a passagem do jovem pelo Chile:
Depois, em 1973, ele decidiu voltar para sua pátria a fim de fazer a revolução, e eu fui a única, além de sua família, que foi se despedir dele na rodoviária, pois Arturito Belano foi por terra, viagem longa, longuíssima, carregada de perigos, a viagem iniciática de todos os pobres rapazes latino-americanos, percorrer esse continente absurdo que entendemos mal ou que simplesmente não entendemos. E, quando Arturito Belano se aproximou da janela do ônibus para nos acenar seu adeus, não foi só sua mãe que chorou, eu também chorei, inexplicavelmente meus olhos se encheram de lágrimas, como se aquele rapaz fosse meu filho e eu temesse que aquela fosse a última vez que ia vê-lo.
No conto Detectives, de Llamadas telefónicas, ainda não traduzido no Brasil, dois detetives lembram da época do golpe, em que eram guardas de uma delegacia onde reconheceram preso um antigo colega do colegial que “aos quinze se foi ao México e aos vinte voltou ao Chile”. Os dois lembram de como o libertaram e mudam de assunto. Nos dois casos, Arturo é só uma lembrança.
III
Esse manejo da primeira pessoa é notado claramente em A pista de gelo, em que “ouvimos” de três personagens (um deles guarda noturno na cidade catalã de Z) o envolvimento de cada um numa série de eventos relacionados a uma pista de gelo construída num casarão. Não há qualquer desnível na construção de complexidade das subjetividades e personalidades deles. São todos humanos, ainda que fictícios. Vejamos:
Remo Morán, dono do hotel Del Mar e do camping, ex-poeta:
Um dia Rosquelles viu a bicicleta de Nuria na rua, na frente do Del Mar, e resolveu entrar para ver o que estava acontecendo. Para sua surpresa encontrou Nuria sentada ao balcão, tomando uma água mineral ao meu lado. Até esse dia eu não desconfiava de que eles tivessem uma relação, e a cena que se produziu foi no mínimo embaraçosa: Rosquelles me cumprimentou com um misto de ódio e desconfiança; Nuria cumprimentou Rosquelles com uma impaciência sob a qual se adivinhava um pouquinho de felicidade; e eu, pego de supetão, demorei a compreender que o maldito gorducho não queria nada de mim e vinha resgatar meu anjo louro.
Enric Rosquelles, político e principal auxiliar da prefeita de Z:
Como acham que eu me senti quando soube que entre Nuria e Remo Morán havia mais do que amizade? Péssimo, eu me senti péssimo. Parecia que o mundo tinha se aberto debaixo dos meus pés, e meu espírito se rebelou ante o que considerei um sarcasmo e uma injustiça. Deveria dizer: a repetição de uma injustiça, pois anos antes eu tivera a ocasião de em circunstâncias similares ver Lola, minha melhor assistente social, uma moça eficientíssima, de moral e equilíbrio invejáveis, cair nas graças do mencionado comerciante sul-americano, que não demorou para destroçar sua vida.
Gaspar Heredia, vigia noturno e poeta:
Chamava-se Stelle Maris (um nome que evoca pensões) e era um camping sem regras demais, sem brigas demais, sem roubos demais. Os usuários eram famílias de trabalhadores provenientes de Barcelona e jovens operários da França, Holanda, Itália, Alemanha. A mistura em certas ocasiões se revelava explosiva e teria sido mesmo, se desde a primeira noite eu não houvesse posto em prática o conselho de ouro que me deu o Carajillo e que consistia em deixar que as pessoas se matassem. A crueza da asserção, que a princípio me causou hilaridade e depois espanto, não pressupunha falta de respeito pelos clientes do Setella Maris, ao contrário, implicava alto grua de estima pelo livre-arbítrio deles.
Epílogo
Talvez o engano ocorra por aí, no talento do autor para a primeira pessoa, não importando se em personagens mais biográficos ou inventados. Engano que se infla peça expectativa da era das celebridades de que as vidas dos artistas sejam tão ou mais fabulosas do que as histórias que contam ou interpretam.
Ou quem sabe haja uma explicação mais teórica, que busco no professor e crítico Luiz Costa Lima. Ele diz em História. Ficção. Literatura que desde a antiguidade e até pouquíssimo tempo atrás era como se houvesse um bloqueio que impedisse em determinadas pessoas e épocas entender o registro ficcional, como se só houvesse verdade nos fatos. Isso vem desde Platão, para quem o belo, o bom e a verdade eram a mesma coisa, continua com a ascensão da cultura cristã que, por necessitar do discurso da revelação (a verdade), acaba por negligenciar o ficcional, e chega, já na modernidade, no discurso científico, que opera também pela afirmação de verdade, ainda que provisória, e pelo encontro do erro (o falso), negligenciando também o ficcional. Assim, conforme o pesquisador, o ato ficcional permanece ainda hoje sem estatuto, ainda que a resenha fictícia de Borges toque nessa questão por meio do próprio discurso ficcional. Sem entender o que se passa entre o real e o falso, muitos se enganam com autores como o próprio Borges e Bolaño.
Referências
Larry Rotter. A ficção de um escritor chileno pode incluir o seu próprio passado colorido. UOL Notícias, 28/01/2009
Roberto Bolaño
A pista de gelo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 (1ª edição 1993).
Llamadas telefónicas. Barcelona, Espanha: Anagrama, 1997.
Os detetives selvagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2006 (1ª edição 1998).
Amuleto. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (1ª edição 1999).
As traduções da Companhia das Letras são de Eduardo Brandão.
Luiz Costa Lima. História. Ficção. Literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.