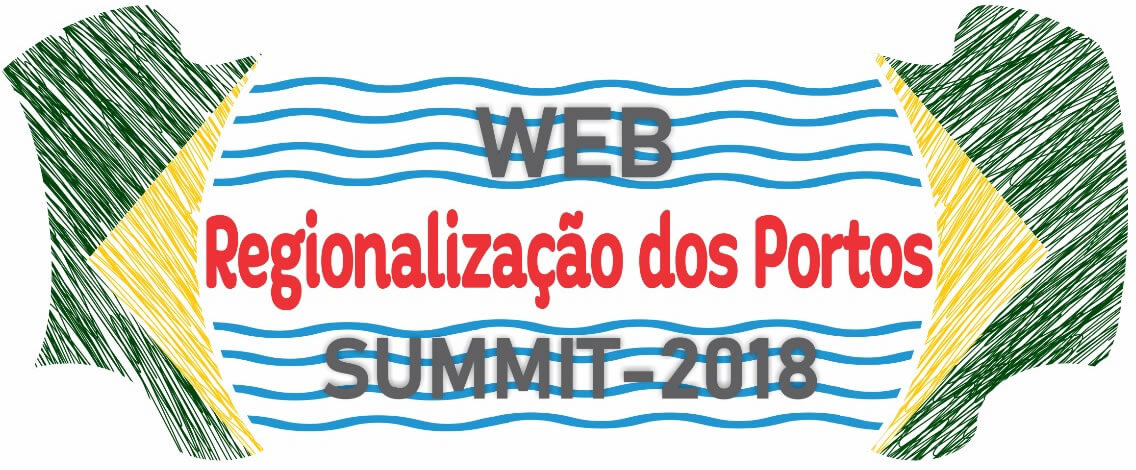Em novembro de 2001, lancei o livro "Transatlânticos em Santos – 1901/2001" na Pinacoteca Graffrée e Guinle, anexa ao Museu do Porto de Santos.

O D. Pedro II foi construído em 1910 e adquirido pelo
Lloyd Brasileiro em 1926, foi o navio que trouxe do porto do
Rio Grande para Santos, o jornalista Sérgio Moita, quando
menino, na companhia de seus pais.
(Cartão-Postal de autoria de Antonio Giacomelli)
O objetivo desse livro foi o de mostrar, em textos e imagens, duas épocas distintas: uma em que o Porto de Santos fazia as vezes dos aeroportos dos dias de hoje, onde todos os viajantes que chegavam ou partiam nos navios de passageiros de longo curso ou de cabotagem (navegação costeira), invariavelmente passavam pelo cais santista, por onde, com certeza, a maioria dos nossos antepassados, os imigrantes, passaram.
A outra é a contemporânea, ou seja, os novos dias de glória, onde podemos presenciar o retorno dos modernos transatlânticos de turismo, ou simplesmente, cruzeiros.
Nessa obra, para não ficar somente o meu ponto de vista, convidei amigos apreciadores do tema, entre eles: José Carlos Silvares, autor do livro Príncipe de Astúrias; José Carlos Rossini, autor do livro Rota de Ouro e Prata; Armando Akio, Hélio Schiavon, Helena Maria Gomes, Narciso de Andrade, Cte. Gabriel Lobo Fialho, Nelson Salazar Marques (já falecido), João Emilio Gerodetti, que teve seu último lançamento em dezembro de 2006, Navios e Portos do Brasil, e Sérgio Moita, que gentilmente aceitaram participar do capítulo Escritos Especiais, que é uma linha do tempo dos navios.

Cartão-postal da armadora Royal Mail Line, que representa os
antigos navios da série Highlands, no qual Sérgio Moita viajou em
1952 de Santos pára Lisboa – Portugal. Acervo: Laire José Giraud
No artigo dessa semana, vamos ler o emocionante e realista texto escrito pelo amigo e jornalista Sérgio Moita: Céu e Mar.
Céu e Mar
Quando ouço a expressão “céu e mar”, sei exatamente o que significa. Durante 12 dias, em uma oportunidade, e 11, em outra, vivi a sensação de que o mundo se resumia a céu e água. Confesso que, a princípio, a situação foi assustadora, mas, depois, tenho que reconhecer virou pura excitação – como só uma viagem de transatlântico pode oferecer.

O Highland Chieftain, foi construído em 1928 e navegou
até os anos 60 do século passado. Eram navios mistos e
transportavam carga frigorífica principalmente da Argentina,
para o mercado europeu. Eram verdadeiras geladeiras flutu-
antes, mas dotados de certo conforto aos passageiros.
Foto – Acervo: Laire José Giraud
A primeira experiência foi em 1952. Eu tinha sete anos e, com minha mãe muito doente, meu pai resolveu retornar a Portugal e levá-la para perto da família. Os dois haviam vindo para o Brasil em 1940, ele primeiro; ela logo depois, com carta de chamada.
A primeira memória da viagem é no cais da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde morávamos. Em pé, ao lado das malas, vi, bem ali à nossa frente, o que achei um enorme, imenso, monstruoso, navio preto, com chaminés fumegantes. Era, se a lembrança não falha, o vapor D. Pedro II, do Lloyd Brasileiro, que fazia a linha da costa e nos levaria a Santos. Partimos pela manhã, em meio a acenos de despedida. De repente, o cais foi ficando pequeno, pequeno, até virar uma mancha azulada no horizonte, e, finalmente, desaparecer. Foi a primeira vez que vi céu e mar apenas. Foi também a primeira vez que senti a fragilidade de um navio – que, depois fiquei sabendo, nem era tão enorme quanto eu imaginava, muito antigo, parecia até acanhado perto dos outros – enfrentando mar aberto.
Cartão-postal pintado por Kenneth Shoesmith, pintor
britânico que imortalizou os navios da Mala Real Inglesa,
principalmente em portos de escalas do navio.
(Série Highlands - Acervo: Laire José Giraud)
Debutei em viagens marítimas de uma maneira insólita. Mal havíamos deixado o Rio Grande e o mar agitado começou a balançar o pobre – mas valente – D. Pedro II como se fosse uma casca de noz. Tínhamos que dormir em beliches com grades e comer segurando os pratos para que não corressem pela mesa. Metade dos passageiros passava boa parte do tempo vomitando nos camarotes e na amurada. A viagem foi rápida e nem bem havia me recuperado da primeira aventura no mar, quando fui apresentado ao meu primeiro transatlântico. Também escuro, um pouco maior, mas muito mais imponente e transpirando segurança. Chamava-se Highland Chieftain, da Mala Real Inglesa. Embarcamos logo em seguida e doze dias depois, chegamos a Lisboa. Confesso que desci ao cais aliviado, não apenas pelo fim da viagem, mas por ver terminado o sofrimento da minha mãe – a doença tinha-lhe provocado uma paralisia quase que total e, entre outras dificuldades, era muito penoso locomover-se no navio. Talvez até por isso não tenha prestado a devida atenção ao velho Highland.
Três anos depois, com a morte da minha mãe, meu pai resolve fazer o caminho inverso e retornar ao Brasil, onde, segundo ele, teríamos mais chances do que no pobre Portugal dominado pela ditadura salazarista. Depois de idas e vindas para obter permissão de passagem – havíamos ido para Portugal em caráter definitivo, para baratear as passagens – eis-me novamente no cais. Desta vez em Lisboa, com 10 anos e diante de um enorme transatlântico branco, nem de longe parecido com o soturno D. Pedro II ou o carrancudo Highland Chieftain. Era o fantástico Vera Cruz, irmão gêmeo do Santa Maria e, ambos orgulho da Companhia Colonial de Navegação – Portugal. Certamente, aos 10 anos, olhei-o com outros olhos, deslumbrado com seu porte altivo, a encorpada chaminé apontando para o céu, ligeiramente inclinada para trás, e as centenas de janelinhas enfeitando o casco brilhante. Foi, sem dúvida, amor à primeira vista. Saímos de Lisboa quase na hora do almoço. Da amurada fiquei observando aquele mesmo fenômeno que me lembrava no Rio Grande: a terra desaparecendo, desaparecendo, até sumir.

O fantástico Vera Cruz, que fez viagem inaugural para o Brasil
em 1952, foi o navio de passageiros que trouxe de volta para o
Brasil, Sérgio Moita e seu pai, quando tinha 10 anos de idade.
Imagem: Revista de Marinha – Portugal.
No segundo dia de viagem, já em mar aberto, percebi a principal diferença entre o Vera Cruz, o D. Pedro II e o Highland: enquanto um, o D. Pedro II, se submetia à vontade do mar e o Highland lutava para vencer as ondas, o Vera Cruz navegava tranqüilo, impávido, como se percorresse uma estrada finamente asfaltada.
Empolgado, fiz de cada setor do imenso navio pedaços de um mundo só meu, muito particular. Corria da terceira classe, onde estávamos, para a segunda e, quando não me viam, para a primeira, com seu luxo inatingível, mas deslumbrante. Havia um lugar, em particular, que me fascinava: a casa de máquinas. Sempre que podia, ia até lá. Era um local quente, cheio de vapor, onde enormes pistões subiam e desciam sem parar. Vários operários trabalhavam ali, todos sem camisa e suando as bicas. Lembro-me de um belo dia ter decidido que, para mim, a partir daquele instante, esse era o coração do navio, de onde a vida era bombeada para o resto da embarcação.
Durante 11 dias, tempo decorrido entre a saída de Lisboa e a chegada a Santos, passando pela Ilha da Madeira e por Salvador, o Vera Cruz foi o mais fantástico parque de diversões que uma criança podia ter. Da abafada casa de máquinas ao imenso tombadilho, onde as pessoas alternavam caminhadas, leituras e jogos, passando pelos corredores estreitos, perfeitos para esconde-esconde, tudo era território livre para brincadeiras. Mesmo o fato de a clarabóia de nossa cabine estar quase à altura do nível do mar me encantava: a qualquer momento, pensava eu, poderia estender a mão e tocá-lo.
Até que, em uma bela noite, o céu desabou sobre nós. Fazia muito calor e eu e meu pai dormimos no tombadilho, deitados em espreguiçadeiras. Por volta de meia-noite, acordamos com grossos pingos de chuva. Nem bem havíamos aberto os olhos, ainda sonolentos, e os grossos pingos transformaram-se em tempestade. Não em uma tempestade qualquer, mas daquelas aterradoras, que só acreditamos existir nos livros e nos filmes. Foi um espetáculo assustador, mas, ao mesmo tempo, único e maravilhoso. O mar, enraivecido, atirava-se contra o Vera Cruz, como que querendo destroçá-lo, lambendo o tombadilho de lado a lado. Ondas gigantescas, ampliadas pela luz fantasmagórica dos relâmpagos, varriam o convés, que às vezes se confundia com a água, como se o navio estivesse afundando. Nem sei exatamente quanto tempo durou a tormenta, até porque, a certa altura, apesar da resistência, meu pai me puxou para dentro, mas aquela cena jamais se apagou da minha memória. Apesar de o navio ter sido pouco afetado pela tempestade – o Vera Cruz permaneceu quase sereno no curso, ali eu pude perceber a terrível e indomável força do mar, contra a qual nada se pode fazer. Fica-se preso a um sentimento de absoluta, total, impotência, mansamente entregue às mãos de Deus, do destino, seja lá o nome que se dê ao desconhecido, ao imponderável que cerca um momento desses.
A viagem ainda me reservaria outro susto, menos dramático. Certo dia estava eu nas aventuras de exploração, quando começaram a soar as sirenes. Era o sinal para que todos corrêssemos aos camarotes, colocássemos os coletes salva-vidas e, sem perda de tempo, nos dirigíssemos ao convés. Nem é preciso dizer que, na confusão que se seguiu, não achei nem o colete e nem o meu pai, que, desesperado, me procurava pelo navio. Ficamos os dois sem participar do que, depois fiquei sabendo, era um exercício de salvamento. Tomei um merecido – será? – castigo: durante todo o restante do dia proibido de sair da cabine.

O paquete Vera Cruz, atracado ao cais de aprestamento do
estaleiro Cockerill, em Hoboken, Bélgica em 1952. Entregue à
CCN em 02-1952, o Vera Cruz fez a linha do Brasil até 1961,
quando passou a fazer a carreira de Angola e fretamentos
militares. Desmantelado na Ilha Formosa em 1979. (Capacidade:
1.942 passageiros – Velocidade: 20 nós – 182 metros de compri-
mento). Pintura de Fernando Lemos Gomes.
A vida a bordo, porém, continuou seu ritmo. No dia seguinte, notei um corre-corre diferente, de marinheiros e funcionários, enfeitando o navio e construindo um palco. Curioso, descobri antes dos demais que se tratava dos preparativos para a festa pela passagem do Equador. Nessa noite, finalmente, misturaram as classes. Houve uma grande comemoração, oferecida pelo capitão. Até o cantor português Francisco José, que também estava indo para o Brasil, se apresentou.
A chegada a Santos foi com festa – naquela época era assim, mas, para mim, a alegria da chegada misturou-se estranhamente a uma tristeza, a de deixar o Vera Cruz. Desci as escadas dividido, levado pela mão de meu pai. Um rápido olhar para trás foi o meu adeus ao imenso navio. Nunca mais o vi. A vida levou-me para outros lados, me fez, infelizmente, crescer, mas, até hoje, passados tantos anos, não há momento em que, olhando para o mar, não me recorde daquelas viagens – as mais fantásticas que já fiz na vida, como só os transatlânticos eram capazes de proporcionar.
Como se pode notar, cada um tem uma visão e uma lembrança dos transatlânticos em sua vida. Com certeza, o texto de Sérgio Moita não será esquecido pelos leitores, devido à narração das três viagens em transatlânticos do passado.
Gostaria de parabenizar o Sérgio Moita pelo brilhante texto que deu um maior brilho ao livro.