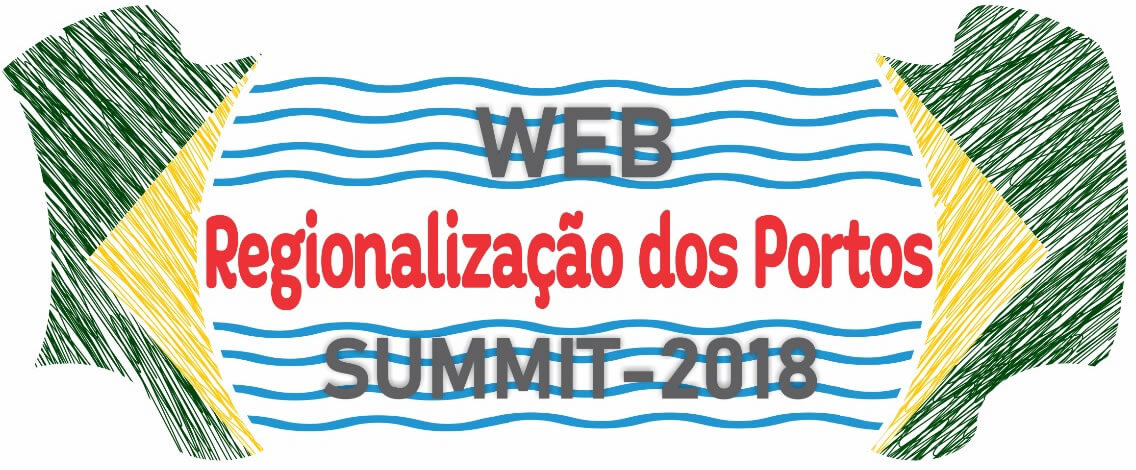“As coisas estão no mundo só que eu preciso aprender”
Paulinho da Viola: “Coisas do Mundo, Minha Nega"
Tardiamente, após uma década que se convencionou chamar de “década perdida”, o Brasil acabou por embarcar na globalização dos anos 1980 (Tacher-Regan). No caso, a fase mais recente de um processo centenário de reconfiguração do comércio internacional, das cadeias de suprimento e produtivas, e da própria geopolítica mundial (vide “The State of Globalisation”; do CEPR).
Certamente esse foi um dos principais vetores a explicar, na entrada da década de 1990, a aceleração da necessidade de aumento de capacidades portuárias (contêineres em particular; que no Brasil iniciava sua pré-adolescência). E, tal necessidade, como impulsionadora de reformas portuárias: inicialmente balizadas pela lei promulgada no início de 1993 (Lei nº 8.630), após a prolongada tramitação do PL-8/91; e, mais recentemente, pela Lei nº 12.815/13.
Em termos de capacidades instaladas e de movimentações os resultados são expressivos; inquestionáveis: ano passado (2024) pelos portos brasileiros passaram 1.320 Mt; 288% a mais que as 340,5 Mt movimentadas às vésperas da primeira lei (1992). No caso do Porto de Santos esse crescimento foi ainda mais marcante: 179,8 Mt (APS) X 28,4 Mt (IBGE); ou seja, 6 vezes mais! Um crescimento de 533%; média anual de 5,59% (sustentadamente, mais que o dobro da taxa média de crescimento do PIB)!
A primeira fase do processo de aumento de capacidade portuária foi majoritariamente apoiado e resultante da combinação de mecanização, automação e gestão/governança, trinômio viabilizado por um novo arranjo e articulação público-privada, marca do novo modelo; da nova lei: as autoridades-administradoras portuárias empreendendo os arranjos institucionais e organizacionais, também cuidando da infraestrutura básica, enquanto a iniciativa privada (operadores e arrendatários) tratavam dos investimentos majoritariamente em equipamentos e sistemas.
No caso específico de gestão/governança, vale destacar o funcionamento de Conselhos de Autoridade Portuária – CAPs (colegiados locais) com atribuições estratégicas e deliberativas, e a centralização de trabalhadores portuários avulsos – TPAs nos recém criados OGMOs. A possibilidade de funcionamento dos terminais em regime “24 horas/dia, 7 dias/semana”, associado às jornadas uniformes (6 horas) para capatazia e estiva e, principalmente, jornadas coincidentes temporalmente (antes eram defasadas de uma hora, o que redundava em períodos ociosos; de uns e de outros). Ademais, a implantação do “trânsito aduaneiro simplificado” – DTAS.
Esse conjunto de ações, coordenadas, resultou tanto em significativo aumento da eficiência/produtividade portuária brasileira, medida através de qualquer indicador (navio, berço, terno, equipamento – 5, 10 15 ou mais vezes), como numa drástica redução de custos portuários, seja no cais (de forma mais significativa – entre 50% e 2/3), seja para o dono da carga (em menor escala).
Com isso, os portos brasileiros puderam dar respostas às pressões da globalização por crescimento acelerado na movimentação de todos os tipos de cargas (algumas, a “taxas chinesas”!), a par de também viabilizar o início de um vigoroso processo de retomada e crescimento da cabotagem, revertendo tendência das décadas anteriores. O curioso é que, paralelamente, mesmo com o crescimento expressivo de movimentações, as filas para atracação dos navios foram quase que eliminadas, produzindo-se fenômenos até inversos: existência de alguns berços ociosos!
Vale sublinhar: o motor dessa transformação foi, essencialmente, o aumento de produtividade/eficiência (ao menos nos 10 ou, até, 20 primeiros anos). Ou seja, com parca expansão das infraestruturas. Essa possibilidade, porém, está hoje nos seus estertores; seja porque a maioria dos terminais atualmente já opera com indicadores em padrões médios-superiores mundiais (e acima de 70%, 80% ou mais de suas capacidades nominais), seja porque parte dessa infraestrutura, ainda que sã fisicamente, enfrenta obsolescência tecnológica para alguns usos: os navios cresceram (em tamanho) e muitos demandam mais profundidade (calado).
Desafios à frente!
A tendência não é nova: grande parte dos projetos de modernização e de expansão portuária, nos cinco continentes, já de algum tempo, vem sendo implementada majoritariamente não em terra; mas sobre o espelho d´água. Não apenas por necessidades/conveniências portuárias, mas também por razões/benefícios energéticos, ambientais e urbanos; inclusive em regiões nas quais o turismo é elemento central da economia.
E mais: não apenas as estruturas de atracação, como é usual; mas abrangendo áreas e edificações para manobras, armazenagem, estacionamentos, inspeções, oficinas e, até administrativas.
A título de exemplo, Rotterdam (Maasvlakte-2, o mais recente), Hamburgo, Ghent, Genova (tradicional, expansão), La Spezia e o novo “London Gateway” na Europa. Também Algeciras (01, 02, 03) e Bilbao (ambos praticamente sobre espelho d´água); Barcelona (que envolveu até a alteração do curso de um rio); e Marseille (o deslocamento da linha de cais para um amplo projeto de revitalização urbana). Nos USA, Los Angeles (01, 02), Long Beach (01, 02) e Chicago (Lago Michigan). Melbourne – Australia. Durban – África do Sul. Na Ásia, Yokohama – Japão, Busan (01, 02) – Corea do Sul, Hazira – Índia, Yangshan (Shanghai – 01, 02) e a maior parte da dúzia de novos (grandes) portos chineses do Século XXI. Vale a pena acessar os sites desses portos para obter detalhes!
No Brasil, em menor escala, mas de igual modo: a mais recente geração de portos offshore, como Suape, Pecém, e Porto do Açu, ou híbridos como Itapoá; e de vários novos projetos “greenfield”, como Presidente Kennedy-ES, Luis Correa-PI e Porto Meridional-RS. Também terminais específicos em áreas abrigadas, como Itaguaí (Sepetiba), Tebar (São Sebastião), os 3 de contêineres em Santos (Tecon – 01, 02; BTP; DPW) e o futuro Tecon-10. Com estruturas flutuantes, valem ser lembradas as “barge-to-ship”– BTS e “barge-to-barge” – BTB (para operações a contrabordo), crescentemente sendo adotadas para petróleo & gás, ao longo da costa, e na Amazônia para embarque de grãos.
Concepções inspiradas, p.ex, em Genova e Marseille (avanço da linha de cais para geração de novas áreas, portuárias e/ou urbanas) poderiam também ter sido utilizadas para compatibilizar a modernização do Porto do Rio com os projetos urbanísticos do “Porto Maravilha”; aliás, estratégia pela qual o próprio Porto do Rio veio gradualmente evoluindo desde o Império; desde o período colonial. Mas optou-se pela demolição do elevado e construção de um (longo) túnel, não se aproveitando, desta vez, a oportunidade de gerar mais e melhores espaços para revitalização urbana e dar melhor solução ao “imbróglio” do trânsito no Caju, além de se postergar projetos de disponibilização de cais com maior profundidade para o Porto; o que mais cedo ou tarde acabará por acontecer.
A estratégia de utilização de áreas sobre espelhos d´água e, mesmo, sobre manguezais para expansões portuárias não é novidade. Mas tornou-se tecnicamente mais viável com a adoção de tecnologia de “lajes com bolha de ar” (tipo “BubbleDeck”) como método construtivo; incidentalmente como previsto para o PIPC (projeto de expansão do Porto de São Sebastião), licenciado ambientalmente pelo IBAMA (com participação dos demais órgãos ambientais) em 2014: são mais leves, podem ser produzidas distantes de sua instalação final (e mais próximas de fontes de matérias-primas), e implantadas gradativamente (como se montando “lego” – brinquedo infantil), conforme a necessidade. Além disso, são geralmente mais baratas.
A utilização delas agrega, também, uma dimensão ambiental: mais amigáveis, podem produzir impactos positivos (ao invés de negativos, sempre o foco de atenção): “A comunidade incrustante que vier a se estabelecer pode ser um atrativo para espécies de peixes, decápodes e demais predadores que poderão vir a obter fonte de nutrientes e refúgio nessa região abrigada... Tal efeito positivo pode ser comparado com a técnica de implantação de recifes artificiais utilizados para atrair recursos pesqueiros e aumento de biodiversidade em planícies sedimentares marinhas. Tal técnica vem sendo mundialmente utilizada para manejo de pesca, inclusive com alguns casos de sucesso no Brasil”; são trechos de um relatório analisando o projeto de São Sebastião em 2009. Aliás, esse processo explica o porquê o entorno das plataformas de petróleo são áreas tão piscosas, desejadas pelos pescadores – mas impedidos de se aproximarem a menos de 500 m (NORMAM-08/DPC).
Uma tendência mundial está definida. Métodos construtivos e a tecnologias estão disponíveis. A expansão portuária brasileira, doravante, deverá demandar cada vez mais o uso de espelhos d´água para expansões portuárias (contêineres, em particular). Ou seja: estruturas de atracação, obviamente; e também áreas e edificações para manobras, armazenagem, estacionamentos, inspeções, oficinas e, até administrativas; como de certa forma já indica o leiaute do Tecon-10, no Porto de Santos.
Para tanto, todavia, amplos ajustes necessitarão ser feitos; seja no âmbito regulatório (compatibilizando normas da Marinha, SPU, ANTAQ, entendimentos da AGU e recente decisão do TRF-1 em ação movida pela ABTP, por um lado, e normas de outorga, por outro), seja de licenciamento ambiental (normas, abordagens e procedimentos; incluindo alguns tabus que mundo afora já foram superados, como exemplificados anteriormente) e de modelagem para arrendamentos.
O histórico portuário brasileiro revela que questões multifacetadas como essas envolvem processos demorados. Assim, para evitar que o futuro arrendatário do Tecon-10 (e de outros leilões na fila) venha a ser surpreendido por um cipoal logo ali à frente, ou o novo leiaute para São Sebastião (incluindo um competitivo terminal de contêineres) seja limitado por temores presumidos e resistências contornáveis, é da maior importância que o tema passe a ser tratado de forma integrada, transparente, entrando definitivamente na pauta setorial com a prioridade devida. Os inúmeros eventos portuários, comerciais e de entidades, também poderiam dar uma mãozinha.
[Periscópio nº 2512]
 Porto de Algeciras – Espanha
Porto de Algeciras – Espanha